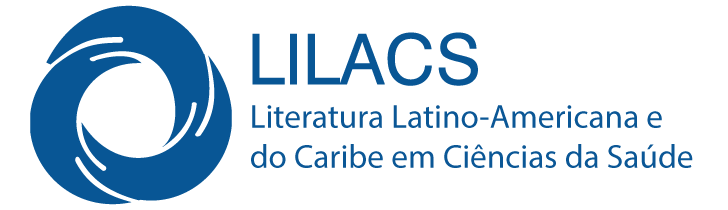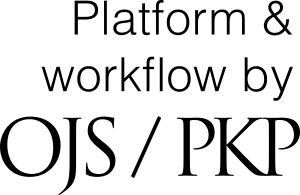Artigo Original 1
Abstract
Vivendo uma Situação Difícil: a Compreensão da Experiência da Pessoa com Úlcera Venosa em Membro Inferior
 Figura 1: Representação gráfica do fenômeno.DiscussãoEm suas falas, as pessoas consultadas referiram que têm seu cotidiano modificado e que cada fase da convivência com a ferida tem características próprias, que requerem mudança de comportamento, força e atitudes de adaptação às novas circunstâncias. A vivência com a enfermidade provoca profunda transformação no mundo do doente, levando-o à necessidade de aprender a conviver com certas limitações, situações e implantar novas rotinas em suas vidas 16. Quando uma pessoa é acometida de uma doença crônica, ela enfrenta alterações no estilo de vida provocadas por certas restrições decorrentes da patologia, das condutas terapêuticas e do controle clínico, além da possibilidade de internações hospitalares recorrentes 17.A seguir são apresentadas e discutidas as categorias de significado obtidas.• Sentindo dor e desconfortoA dor, segundo o que foi informado, mostrou-se presente em alguma fase da doença ou tratamento, na totalidade dos entrevistados.Todos, em algum momento, referiram apresentar episódios dolorosos em suas experiências com a úlcera.Segundo a International Association for the Study of Pain, a dor pode ser considerada como uma experiência sensorial e emocional desagradável que pode estar associada à lesão real ou não, está diretamente relacionada a fatores culturais, sofrendo, portanto, interferência do aprendizado. A dor constitui-se em uma experiência privada e subjetiva, não resulta apenas de características de lesão tecidual, mas integra também fatores emocionais e culturais individuais.No entanto, constitui um elemento crucial para a proteção e a manutenção da vida, pois é sinal de algum dano, tendo assim, um papel biológico fundamental 18.A dor e o desconforto são fatos reais e constantes na vida dos pacientes com úlcera cutânea de membros inferiores, pois as lesões teciduais atingem terminações nervosas. O desconforto decorre das limitações impostas. Os pacientes consultados manifestaram, em seus discursos, como experimentavam a dor, conheciam suas nuances e haviam aprendido a lidar com ela, classificando-a, treinando o controle, o uso da medicação e das complicações, ultrapassando seus limites.“... ela queima, que nem tivesse uma coisa queimando, uma dor assim... não sei explicar, ela não lateja, ela pulsa, queima é uma coisa de louco.” (Rubi)“... ela dói, tem dia que ela dói muito, e quando a pessoa precisa trabalhar pior ainda, incha a perna, entendeu?...” (Mármore)“... dói bastante isso daí, e a gente tem que fazer serviço, a gente não dorme direito tem que tomar remédio pra dormir, porque senão a dor é demais e não dorme, só que só a pessoa que tem é que sabe o sofrimento que é, porque a gente falando assim as pessoas pensam que num é tanto, né, e fala: ‘Ah, não é tanto que dói do jeito que ela fala’, mas só quem tem que sabe o que a gente passa”. (Granito)“Era muito desconforto né, demais, doía muito, não podia dormir direito de noite, num dormia, andava pra casa a noite inteira ainda mancando, uma hora com muleta, outra hora sem muleta, mas mancando por dentro de casa, sofri muito, minha fia!” (Ametista)• Sentindo medoSentir medo é algo que representa um estado de alerta, geralmente ocasionado quando a pessoa se sente ameaçada, tanto física como psicologicamente. As experiências da pessoa decorrentes das diversas vivências com o tratamento, os procedimentos médicos, as limitações, a demora na resolução do problema e suas concepções sobre a doença podem desencadear inseguranças e medos. No entanto, o grau de confiança na equipe de saúde, o conhecimento sobre a doença e as informações vinculadas pelos meios de comunicação formal e informal podem colaborar para que o medo seja minimizado.“... Ah, quando saiu eu fiquei um pouco com medo né, porque nunca tinha saído essas coisa, aí eu comecei ir no médico...” (Granito)"... oh eu deixo de comer as coisas de medo que a ferida abre mais, adoro essa manga assim, oh, eu não como, porque eu tenho medo de comer a manga e sair uma ferida, ou a ferida fica assim, grandona, então deixo de comer a manga pra não piorar minha perna...” (Rubi)“... eu achei que ia piorar. Eu não fiz a cirurgia não e nem voltei mais no médico, eu tenho medo né, mas eu não tive mais vontade de ir nele não...” (Mármore)“... aquele buraco que dava até medo de ver.” (Ametista)O estudo aponta que a vivência continuada com a úlcera venosa desperta todo um conjunto de emoções e sentimentos, bem como receios e preocupações de naturezas diversas, como o medo da amputação do membro e a incerteza da evolução do tratamento com resolução da situação de saúde. Um trabalho realizado com pessoas de outra cultura 19 apontou experiências semelhantes às relatadas no presente estudo, demonstrando que o significado dessa vivencia transcende o espaço geográfico. Na perspectiva interacionista, o grau de significância que os eventos representam, para os indivíduos, são influenciados pelos valores atribuídos às situações e alguns valores são universais 10.• Tendo limitaçõesDada a complexidade do tratamento e a evolução prolongada da doença, muitas são as complicações apresentadas pelo paciente. Aos poucos, as sequelas vão sendo incorporadas ao cotidiano do doente que vai carregando consigo muitas limitações e perdas, além do grande sentimento de inutilidade diante das necessidades próprias ou de outrem, muitas vezes tornando a pessoa dependente dos familiares.A doença traz limitações a partir do momento em que afasta o doente de suas atividades, impedindo e dificultando a execução de atividades em situações da vida diária. O afastamento do mundo do trabalho é a primeira grande alteração que ocorre interferindo nas demandas financeiras e sociais de realizar uma atividade laboral. Relatos de outros trabalhos apontam que a autoavaliação negativa surge ao relembrar o passado e perceber se na atual situação como pessoa inútil e incapaz de fazer o que desejaria e o que sempre fez 19.“... se eu quero participar, por exemplo, de uma piscina eu não posso uma porque a ferida não pode ficar exposta na água e o outro porque ninguém vai parar na piscina se eu entrar, entendeu?” (Mármore)“... quero ir em um lugar não posso, quero ir em outro não posso, então um sapato quero usar, já pé tá inchado não consigo colocar, quero ir numa praia não posso ir, tive convite pra ir muitas vezes, ou em SC mesmo, no B também me convidaram muitas vezes, eu vou lá e não posso entrar na água, não posso brincar, não posso fazer nada. Não posso participar de um carnaval, de um baile da terceira idade e de uma brincadeira qualquer, um futebol não posso mais.” (Esmeralda)“Difícil, porque eu não sou feliz por isso. Não posso pôr um sapato bonito, quero sair tudo e não aguento, eu não tenho vontade de ir com a perna embrulhada assim, então eu fico muito triste, então é muito difícil pra viver assim, mas fazer o que né?” (Rubi)“Ah não ia quase em lugar nenhum, não dava pra andar, não conseguia andar, então meu negócio era só dentro de casa, se saísse era só de carro, que a minha filha levava em qualquer lugar eu ia, mas pra eu andar não dava, não dava pra andar...” (Ametista)“..., por isso que eu falo que é sofrimento, a gente não tem gosto da gente ponha um sapato no pé, não tem gosto de vestir uma roupa porque tem que tá com a faixa enrolada na perna e que tudo isso é difícil né, tem muitas pessoas que vê e começa a debocha, eu já vi muitas pessoa debochando, eu falo se vocês soubessem...” (Granito)O ser humano, enquanto ser social, é interativo e simbólico e assim suas avaliações se dão a partir das interações sociais. Ao interagir com o outro, ou consigo mesmo, o ser humano recebe estímulos que provocam mudanças nos elementos que são considerados no contexto vivido e essas mudanças norteiam sua forma de interpretação 10.• Tendo féTodas as pessoas consultadas falaram sobre sua religiosidade e mencionaram pertencer a alguma denominação cristã. Sabe-se que hoje vivemos influenciados pelos elementos que nos cercam em nosso cotidiano. Isso pode ser comprovado na população consultada quando ela se refere à doença como fator causador de uma transformação e de uma aproximação com suas respectivas crenças e valores, como, por exemplo, a fé. A fé constitui um modo de pensar construtivo. É um sentimento de confiança de que acontecerá o que se deseja. O desenvolvimento da espiritualidade é independente de qualquer credo ou convicção religiosa 20.Suportar a doença e o consequente tratamento exige do doente força e perseverança.Manter-se participativo no tratamento e ainda manter a fé frente a todas as dificuldades demandam uma força espiritual. A doença leva o indivíduo a refletir sobre a existência de um ser superior, de um ser celestial. A vitória conseguida, em cada fase da doença, e a motivação são atribuídas à fé em Deus. A religiosidade aparece como uma garantia à sobrevivência e proteção simbólica, oferecendo amparo aos que sofrem e consolo aos que choram 21.“Por que pra Deus nada é impossível, né.” (Granito)“... pois outra a gente precisa ter fé em Deus né, acreditar, acho que é a base de tudo pra qualquer enfermidade, tem enfermidades pior que essa...” (Mármore)“ Ah, mas eu tenho fé em Deus, tem hora que fico pedindo, peço pro santo. Eu acredito que um dia vai ter que ter fim, ou fim ou vai e torna pior, sei lá o que a vida traz pra gente.” (Rubi)A religiosidade pode ser inserida no sistema de crenças dos indivíduos e é capaz de transmitir vitalidade e significado à vida, mobilizando energias positivas e melhorando a qualidade de vida das pessoas 21.• Esperando a curaA esperança de se ver curado permanece presente no indivíduo, fazendo-o acreditar que, em certo momento, a doença desaparecerá e um milagre ocorrerá. Em algumas situações, essa é a única fonte de força para o indivíduo para que ele dê continuidade ao tratamento.Ver-se com menos problemas decorrentes da doença no futuro ou poder ter a sua antiga vida recuperada cria uma aceitação do presente, mesmo com suas atuais dificuldades e consequências.“Eu espero a cura... ah, né a esperança é a ultima que morre!” (Rubi)“... eu não perdi a esperança de sarar, eu não perdi porque a gente sabe que hoje tem muito recurso...” (Mármore)“... É! só que a esperança de eu sarar minha perna eu não tenho não, mas eu sei que é pra eu ter esperança que eu vou sarar um dia.”(Granito)“Tinha muita esperança, mas tava difícil, pomada tudo que falava a gente ia ao médico passava aquele monte de remédio...” (Ametista)Criar novas esperanças faz o doente ganhar forças para enfrentar os desafios da doença e sentirse vivo e ativo.Em algumas culturas, ainda nos dias atuais, encontram-se pessoas que atribuem a cura de feridas e de outras enfermidades a crenças e não aos recursos e descobertas científicas 22. A esperança faz com que o doente ganhe forças para enfrentar os desafios da doença e possa sentir-se vivo e ativo na busca por sobrevivência 19. Na perspectiva interacionista, o futuro e o passado são objetos sociais. As ações do presente dependem em parte das crenças no que será o futuro e, sendo assim, essa crença é importante para a definição de situações atuais. A memória traz o passado para o presente e a imaginação traz o futuro 10.Considerações finaisEste estudo apresentou, analiticamente e sob a perspectiva do IS, a experiência de cinco pessoas adultas em autocuidado no domicílio sobre conviver com úlcera cutânea de membros inferiores, permitindo a compreensão dessa vivência. A análise temática das falas permitiu a criação das categorias analíticas: Sentindo dor e desconforto, Sentindo medo, Tendo limitações, Tendo fé e Esperando a cura, que refletem o significado da experiência na máxima VIVENDO UMA SITUAÇÃO DIFÍCIL.Olhando sob a perspectiva do Interacionismo Simbólico, apreendeu-se que, apesar dos avanços científicos na área da saúde, ainda continua difícil para as pessoas com úlceras cutâneas crônicas conviver com a dor, o desconforto, as limitações e os medos e, embora as perspectivas de cura sejam remotas, elas continuam a depositar sua esperança na fé que professam em busca da cura e na espera de dias melhores para sua vida.A análise do fenômeno VIVENDO UMA SITUAÇÃO DIFÍCIL deixou à mostra as dificuldades das pessoas com lesões crônicas em membros inferiores, tanto na realização de suas atividades básicas do dia a dia, quanto nas relações sociais, fatos que as levam a perceber que sua ação e autonomia ficam prejudicadas, afetando assim a sua autoestima. A sensação de inutilidade referida pelos doentes leva à perda da sua individualidade profissional e pessoal.Atualmente, sabe-se que a batalha contra a úlcera não se resume apenas a um tratamento farmacológico sistêmico, mas exige outras modalidades, como: uma boa alimentação, repouso, estabilidade emocional, acompanhamento familiar e disciplina no cuidado. No entanto, nem sempre a população possui acesso às informações necessárias e aos recursos disponíveis para a manutenção da saúde.Ressalta-se a necessidade de que discussões sobre políticas públicas às pessoas em situações crônicas de saúde possam acontecer produzindo ações que levem ao reconhecimento de que a dignidade, a humanização e a efetividade são imprescindíveis para um cuidado resolutivo e de boa qualidade.Considera-se que o estudo contribuiu para a melhor compreensão do doente com úlcera venosa, validando-se a hipótese inicial de que a compreensão mais refinada dos aspectos psicológicos, emocionais e sociais que envolvem a pessoa com úlcera venosa subsidia condições para que a enfermagem adquira ou aperfeiçoe seu preparo e atuação nas situações da assistência que envolvem essa enfermidade.Ouvir, porém, não esgota a extensão da assistência. Ao enfermeiro cabe a responsabilidade de conhecer profundamente o doente, sua história de vida, crenças, cultura, classe sócio-econômica, tratamentos anteriores, histórico familiar entre outros pontos importantes, para a realização adequada do cuidado integral. Uma ferramenta de fundamental importância para o cuidado é a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), de competência privativa do enfermeiro que, quando aplicada, subsidia ações de enfermagem com eficiência. Além disso, a atualização contínua dos seus conhecimentos, pesquisas rigorosas sobre o assunto e comprometimento em oferecer um atendimento de boa qualidade que satisfaça as necessidades do cliente e melhore sua qualidade de vida são desejados.Espera-se que este trabalho possa contribuir para uma reflexão a respeito do papel desempenhado pelos profissionais na assistência à saúde dessa clientela.
Figura 1: Representação gráfica do fenômeno.DiscussãoEm suas falas, as pessoas consultadas referiram que têm seu cotidiano modificado e que cada fase da convivência com a ferida tem características próprias, que requerem mudança de comportamento, força e atitudes de adaptação às novas circunstâncias. A vivência com a enfermidade provoca profunda transformação no mundo do doente, levando-o à necessidade de aprender a conviver com certas limitações, situações e implantar novas rotinas em suas vidas 16. Quando uma pessoa é acometida de uma doença crônica, ela enfrenta alterações no estilo de vida provocadas por certas restrições decorrentes da patologia, das condutas terapêuticas e do controle clínico, além da possibilidade de internações hospitalares recorrentes 17.A seguir são apresentadas e discutidas as categorias de significado obtidas.• Sentindo dor e desconfortoA dor, segundo o que foi informado, mostrou-se presente em alguma fase da doença ou tratamento, na totalidade dos entrevistados.Todos, em algum momento, referiram apresentar episódios dolorosos em suas experiências com a úlcera.Segundo a International Association for the Study of Pain, a dor pode ser considerada como uma experiência sensorial e emocional desagradável que pode estar associada à lesão real ou não, está diretamente relacionada a fatores culturais, sofrendo, portanto, interferência do aprendizado. A dor constitui-se em uma experiência privada e subjetiva, não resulta apenas de características de lesão tecidual, mas integra também fatores emocionais e culturais individuais.No entanto, constitui um elemento crucial para a proteção e a manutenção da vida, pois é sinal de algum dano, tendo assim, um papel biológico fundamental 18.A dor e o desconforto são fatos reais e constantes na vida dos pacientes com úlcera cutânea de membros inferiores, pois as lesões teciduais atingem terminações nervosas. O desconforto decorre das limitações impostas. Os pacientes consultados manifestaram, em seus discursos, como experimentavam a dor, conheciam suas nuances e haviam aprendido a lidar com ela, classificando-a, treinando o controle, o uso da medicação e das complicações, ultrapassando seus limites.“... ela queima, que nem tivesse uma coisa queimando, uma dor assim... não sei explicar, ela não lateja, ela pulsa, queima é uma coisa de louco.” (Rubi)“... ela dói, tem dia que ela dói muito, e quando a pessoa precisa trabalhar pior ainda, incha a perna, entendeu?...” (Mármore)“... dói bastante isso daí, e a gente tem que fazer serviço, a gente não dorme direito tem que tomar remédio pra dormir, porque senão a dor é demais e não dorme, só que só a pessoa que tem é que sabe o sofrimento que é, porque a gente falando assim as pessoas pensam que num é tanto, né, e fala: ‘Ah, não é tanto que dói do jeito que ela fala’, mas só quem tem que sabe o que a gente passa”. (Granito)“Era muito desconforto né, demais, doía muito, não podia dormir direito de noite, num dormia, andava pra casa a noite inteira ainda mancando, uma hora com muleta, outra hora sem muleta, mas mancando por dentro de casa, sofri muito, minha fia!” (Ametista)• Sentindo medoSentir medo é algo que representa um estado de alerta, geralmente ocasionado quando a pessoa se sente ameaçada, tanto física como psicologicamente. As experiências da pessoa decorrentes das diversas vivências com o tratamento, os procedimentos médicos, as limitações, a demora na resolução do problema e suas concepções sobre a doença podem desencadear inseguranças e medos. No entanto, o grau de confiança na equipe de saúde, o conhecimento sobre a doença e as informações vinculadas pelos meios de comunicação formal e informal podem colaborar para que o medo seja minimizado.“... Ah, quando saiu eu fiquei um pouco com medo né, porque nunca tinha saído essas coisa, aí eu comecei ir no médico...” (Granito)"... oh eu deixo de comer as coisas de medo que a ferida abre mais, adoro essa manga assim, oh, eu não como, porque eu tenho medo de comer a manga e sair uma ferida, ou a ferida fica assim, grandona, então deixo de comer a manga pra não piorar minha perna...” (Rubi)“... eu achei que ia piorar. Eu não fiz a cirurgia não e nem voltei mais no médico, eu tenho medo né, mas eu não tive mais vontade de ir nele não...” (Mármore)“... aquele buraco que dava até medo de ver.” (Ametista)O estudo aponta que a vivência continuada com a úlcera venosa desperta todo um conjunto de emoções e sentimentos, bem como receios e preocupações de naturezas diversas, como o medo da amputação do membro e a incerteza da evolução do tratamento com resolução da situação de saúde. Um trabalho realizado com pessoas de outra cultura 19 apontou experiências semelhantes às relatadas no presente estudo, demonstrando que o significado dessa vivencia transcende o espaço geográfico. Na perspectiva interacionista, o grau de significância que os eventos representam, para os indivíduos, são influenciados pelos valores atribuídos às situações e alguns valores são universais 10.• Tendo limitaçõesDada a complexidade do tratamento e a evolução prolongada da doença, muitas são as complicações apresentadas pelo paciente. Aos poucos, as sequelas vão sendo incorporadas ao cotidiano do doente que vai carregando consigo muitas limitações e perdas, além do grande sentimento de inutilidade diante das necessidades próprias ou de outrem, muitas vezes tornando a pessoa dependente dos familiares.A doença traz limitações a partir do momento em que afasta o doente de suas atividades, impedindo e dificultando a execução de atividades em situações da vida diária. O afastamento do mundo do trabalho é a primeira grande alteração que ocorre interferindo nas demandas financeiras e sociais de realizar uma atividade laboral. Relatos de outros trabalhos apontam que a autoavaliação negativa surge ao relembrar o passado e perceber se na atual situação como pessoa inútil e incapaz de fazer o que desejaria e o que sempre fez 19.“... se eu quero participar, por exemplo, de uma piscina eu não posso uma porque a ferida não pode ficar exposta na água e o outro porque ninguém vai parar na piscina se eu entrar, entendeu?” (Mármore)“... quero ir em um lugar não posso, quero ir em outro não posso, então um sapato quero usar, já pé tá inchado não consigo colocar, quero ir numa praia não posso ir, tive convite pra ir muitas vezes, ou em SC mesmo, no B também me convidaram muitas vezes, eu vou lá e não posso entrar na água, não posso brincar, não posso fazer nada. Não posso participar de um carnaval, de um baile da terceira idade e de uma brincadeira qualquer, um futebol não posso mais.” (Esmeralda)“Difícil, porque eu não sou feliz por isso. Não posso pôr um sapato bonito, quero sair tudo e não aguento, eu não tenho vontade de ir com a perna embrulhada assim, então eu fico muito triste, então é muito difícil pra viver assim, mas fazer o que né?” (Rubi)“Ah não ia quase em lugar nenhum, não dava pra andar, não conseguia andar, então meu negócio era só dentro de casa, se saísse era só de carro, que a minha filha levava em qualquer lugar eu ia, mas pra eu andar não dava, não dava pra andar...” (Ametista)“..., por isso que eu falo que é sofrimento, a gente não tem gosto da gente ponha um sapato no pé, não tem gosto de vestir uma roupa porque tem que tá com a faixa enrolada na perna e que tudo isso é difícil né, tem muitas pessoas que vê e começa a debocha, eu já vi muitas pessoa debochando, eu falo se vocês soubessem...” (Granito)O ser humano, enquanto ser social, é interativo e simbólico e assim suas avaliações se dão a partir das interações sociais. Ao interagir com o outro, ou consigo mesmo, o ser humano recebe estímulos que provocam mudanças nos elementos que são considerados no contexto vivido e essas mudanças norteiam sua forma de interpretação 10.• Tendo féTodas as pessoas consultadas falaram sobre sua religiosidade e mencionaram pertencer a alguma denominação cristã. Sabe-se que hoje vivemos influenciados pelos elementos que nos cercam em nosso cotidiano. Isso pode ser comprovado na população consultada quando ela se refere à doença como fator causador de uma transformação e de uma aproximação com suas respectivas crenças e valores, como, por exemplo, a fé. A fé constitui um modo de pensar construtivo. É um sentimento de confiança de que acontecerá o que se deseja. O desenvolvimento da espiritualidade é independente de qualquer credo ou convicção religiosa 20.Suportar a doença e o consequente tratamento exige do doente força e perseverança.Manter-se participativo no tratamento e ainda manter a fé frente a todas as dificuldades demandam uma força espiritual. A doença leva o indivíduo a refletir sobre a existência de um ser superior, de um ser celestial. A vitória conseguida, em cada fase da doença, e a motivação são atribuídas à fé em Deus. A religiosidade aparece como uma garantia à sobrevivência e proteção simbólica, oferecendo amparo aos que sofrem e consolo aos que choram 21.“Por que pra Deus nada é impossível, né.” (Granito)“... pois outra a gente precisa ter fé em Deus né, acreditar, acho que é a base de tudo pra qualquer enfermidade, tem enfermidades pior que essa...” (Mármore)“ Ah, mas eu tenho fé em Deus, tem hora que fico pedindo, peço pro santo. Eu acredito que um dia vai ter que ter fim, ou fim ou vai e torna pior, sei lá o que a vida traz pra gente.” (Rubi)A religiosidade pode ser inserida no sistema de crenças dos indivíduos e é capaz de transmitir vitalidade e significado à vida, mobilizando energias positivas e melhorando a qualidade de vida das pessoas 21.• Esperando a curaA esperança de se ver curado permanece presente no indivíduo, fazendo-o acreditar que, em certo momento, a doença desaparecerá e um milagre ocorrerá. Em algumas situações, essa é a única fonte de força para o indivíduo para que ele dê continuidade ao tratamento.Ver-se com menos problemas decorrentes da doença no futuro ou poder ter a sua antiga vida recuperada cria uma aceitação do presente, mesmo com suas atuais dificuldades e consequências.“Eu espero a cura... ah, né a esperança é a ultima que morre!” (Rubi)“... eu não perdi a esperança de sarar, eu não perdi porque a gente sabe que hoje tem muito recurso...” (Mármore)“... É! só que a esperança de eu sarar minha perna eu não tenho não, mas eu sei que é pra eu ter esperança que eu vou sarar um dia.”(Granito)“Tinha muita esperança, mas tava difícil, pomada tudo que falava a gente ia ao médico passava aquele monte de remédio...” (Ametista)Criar novas esperanças faz o doente ganhar forças para enfrentar os desafios da doença e sentirse vivo e ativo.Em algumas culturas, ainda nos dias atuais, encontram-se pessoas que atribuem a cura de feridas e de outras enfermidades a crenças e não aos recursos e descobertas científicas 22. A esperança faz com que o doente ganhe forças para enfrentar os desafios da doença e possa sentir-se vivo e ativo na busca por sobrevivência 19. Na perspectiva interacionista, o futuro e o passado são objetos sociais. As ações do presente dependem em parte das crenças no que será o futuro e, sendo assim, essa crença é importante para a definição de situações atuais. A memória traz o passado para o presente e a imaginação traz o futuro 10.Considerações finaisEste estudo apresentou, analiticamente e sob a perspectiva do IS, a experiência de cinco pessoas adultas em autocuidado no domicílio sobre conviver com úlcera cutânea de membros inferiores, permitindo a compreensão dessa vivência. A análise temática das falas permitiu a criação das categorias analíticas: Sentindo dor e desconforto, Sentindo medo, Tendo limitações, Tendo fé e Esperando a cura, que refletem o significado da experiência na máxima VIVENDO UMA SITUAÇÃO DIFÍCIL.Olhando sob a perspectiva do Interacionismo Simbólico, apreendeu-se que, apesar dos avanços científicos na área da saúde, ainda continua difícil para as pessoas com úlceras cutâneas crônicas conviver com a dor, o desconforto, as limitações e os medos e, embora as perspectivas de cura sejam remotas, elas continuam a depositar sua esperança na fé que professam em busca da cura e na espera de dias melhores para sua vida.A análise do fenômeno VIVENDO UMA SITUAÇÃO DIFÍCIL deixou à mostra as dificuldades das pessoas com lesões crônicas em membros inferiores, tanto na realização de suas atividades básicas do dia a dia, quanto nas relações sociais, fatos que as levam a perceber que sua ação e autonomia ficam prejudicadas, afetando assim a sua autoestima. A sensação de inutilidade referida pelos doentes leva à perda da sua individualidade profissional e pessoal.Atualmente, sabe-se que a batalha contra a úlcera não se resume apenas a um tratamento farmacológico sistêmico, mas exige outras modalidades, como: uma boa alimentação, repouso, estabilidade emocional, acompanhamento familiar e disciplina no cuidado. No entanto, nem sempre a população possui acesso às informações necessárias e aos recursos disponíveis para a manutenção da saúde.Ressalta-se a necessidade de que discussões sobre políticas públicas às pessoas em situações crônicas de saúde possam acontecer produzindo ações que levem ao reconhecimento de que a dignidade, a humanização e a efetividade são imprescindíveis para um cuidado resolutivo e de boa qualidade.Considera-se que o estudo contribuiu para a melhor compreensão do doente com úlcera venosa, validando-se a hipótese inicial de que a compreensão mais refinada dos aspectos psicológicos, emocionais e sociais que envolvem a pessoa com úlcera venosa subsidia condições para que a enfermagem adquira ou aperfeiçoe seu preparo e atuação nas situações da assistência que envolvem essa enfermidade.Ouvir, porém, não esgota a extensão da assistência. Ao enfermeiro cabe a responsabilidade de conhecer profundamente o doente, sua história de vida, crenças, cultura, classe sócio-econômica, tratamentos anteriores, histórico familiar entre outros pontos importantes, para a realização adequada do cuidado integral. Uma ferramenta de fundamental importância para o cuidado é a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), de competência privativa do enfermeiro que, quando aplicada, subsidia ações de enfermagem com eficiência. Além disso, a atualização contínua dos seus conhecimentos, pesquisas rigorosas sobre o assunto e comprometimento em oferecer um atendimento de boa qualidade que satisfaça as necessidades do cliente e melhore sua qualidade de vida são desejados.Espera-se que este trabalho possa contribuir para uma reflexão a respeito do papel desempenhado pelos profissionais na assistência à saúde dessa clientela.
Downloads
References
Borges EL, Caliri MHL, Haas VJ. Systematic review of topic treatment for venous ulcers. Rev. Latino-am. Enfermagem 2007;15(6):1163- 1170.
Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde. Departamento de Atenção Básica. Manual de condutas para úlceras neurotróficas e traumáticas. Secretaria de Políticas de Saúde, Departamento de Atenção Básica. - Brasília: Ministério da Saúde, 2002.
Jorge AS, Dantas SRPE. Abordagem multiprofissional do tratamento de lesões cutâneas. São Paulo: Editora Atheneu; 2003.
Dealey C. Cuidando de feridas: um guia para enfermeiras. São Paulo: Atheneu, 1996.
Carmo SS, Castro CD, Rios VS, Sarquis MGA. Atualidades na assistência de enfermagem a portadores de úlcera venosa. Revista Eletrônica de Enfermagem 2007;9(2):506- 517. Disponível em http:// www.fen.ufg.br/revista/v9/n2/v9n2a17.htm
Trentini M, Silva DMGV. Condição crônica de saúde e o processo de ser saudável. Texto Contexto Enferm. 1992;1(2):76-88.
Silva LF, Guedes MVC, Moreira RP, Souza ACC. Doença crônica: o enfrentamento pela família. Acta Paul Enferm. 2002;15(1):40-47.
Olivieri DP. O “ser doente”: dimensão humana na formação do profissional de saúde. São Paulo: Moraes;1985.
Blumer H. Symbolic interacionism: perspective and method. Berkeley: University of California; 1969. 208 p.
Charon JM. Symbolic interacionism: an introduction, an interpretation, an integration. 5 th ed. New Jersey: Simon & Schuster; 1995.
Bardin L. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições; 2000.
Borges EL. Tratamento tópico de úlceras venosas: proposta de uma diretriz baseada em evidências. [tese doutorado]. Ribeirão Preto: Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo; 2005. Disponível em http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/ 22132/tde-12122005-110012/pt-br.php Acesso em 1 Out 2009.
Floriani CA, Schramm FR. Cuidador do idoso com câncer avançado: um ator vulnerado. Cadernos Saúde Pública 2006;22(3):527-534. Disponível em: . Acesso em 1 Out 2009.
Fleury, S. Pobreza, desigualdades ou exclusão? Ciênc. Saúde Coletiva 2007;12(6):1422-1425.
Araújo YB, Collet N, Moura FM, Nóbrega RD. Conhecimento da família acerca da condição crônica na infância. Texto contexto - enferm. 2009;18(3):498-505.
Helmann CG. Cultura, saúde e doença. 4ª ed. Porto Alegre: Artmed; 2003.
Ferreira, NM, Dupas, G; Filizola, CLA; Pavarini, SCI. Doença crônica: comparando experiências familiares. Saúde em Debate 2010;34(85):236-247.
Trentini M, Silva SH, Valle ML, Hammerschmidt KS. Enfrentamento de situações adversas e favoráveis por pessoas idosas em condições crônicas de saúde. Rev Latino-am. Enfermagem 2005;13(1):38-45.
Sousa, FAMR. O corpo que não cura - vivências das pessoas com úlcera venosa crônica de perna. [mestrado]. Porto: Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar da Universidade do Porto; 2009.
Ferreira NML, Dupas G, Costa DB, Sanchez KOL. Câncer e família: compreendendo os significados simbólicos. Ciênc. Cuid Saúde 2010;9(2):269-277.
Pietrukowicz, M C LC. Apoio social e religião: uma forma de enfrentamento dos problemas de saúde. [mestrado. Rio de Janeiro: Fundação Oswaldo Cruz, Escola Nacional de Saúde Pública; 2001.
Silva, DM; Mocelin, KR. O cuidado de enfermagem ao cliente portador de feridas sob a ótica do cuidado transcultural. Nursing 2007;9(105):81- 88.
Agradecimentos: Universidade Federal de São Carlos – UFSCar